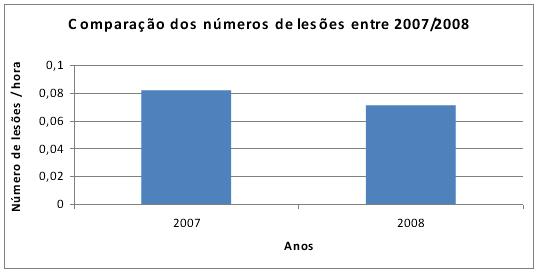Creatina -Suplementos
QUAIS AS POSSÍVEIS VANTAGENS NO EMPREGO DA CREATINA?
O QUE É ?
A Creatina é sintetizada no organismo a
partir de 2 aminoácidos: glicina e arginina,
obtidos a partir da degradação de
proteínas da dieta ou dos tecidos. É
um composto que combinado com fosfato forma elemento
altamente energético encontrado nos músculos.
QUAL A SUA IMPORTÂNCIA?
A fosfocreatina (creatina fosfato ou CP) mantém
a concentração de ATP constante
e em altos níveis nos músculos esqueléticos.
É a principal molécula de ressíntese
de ATP nos primeiros 10 segundos de atividades
máximas. A quantidade de CP disponível
é provavelmente um dos fatores mais importantes
para a fadiga após o exercício de
alta intensidade e curta duração.
QUAIS AS POSSÍVEIS VANTAGENS NO EMPREGO DA CREATINA?
A suplementação de creatina pode
aumentar a creatina intramuscular em 1/3, o que
favorece a formação de creatina
fosfato e por sua vez, ajuda a manter uma potência
máxima ou quase máxima durante mais
tempo que o habitual. A creatina aumenta a força
para exercícios de alta intensidade e pequena
duração (até 30 segundos),
como nos sprints, saltos, deslocamentos rápidos
com mudança de direção. Também
é considerada por estimular o crescimento
muscular. Quando sua concentração
é aumentada pela suplementação,
a ressíntese de ATP é mais eficiente
e a recuperação, mais rápida.
CREATINA X FUNÇÃO RENAL
A principal função renal é
manter o balanço homeostático em
relação a fluidos, eletrólitos
e solutos orgânicos. O rim também
age no controle da pressão sanguínea,
na produção de glóbulos vermelhos
na medula óssea e na produção
da forma ativada vitamina D, que atua na absorção
intestinal do cálcio.
A creatina é perdida pelo corpo na forma de creatinina, que é um constituinte natural da urina, utilizado em exames bioquímicos para medir a capacidade funcional dos rins.
Um nível elevado de proteína dietética provoca um aumento na produção e excreção da uréia, podendo causar assim uma sobrecarga funcional nos rins.
A creatina é perdida pelo corpo na forma de creatinina, que é um constituinte natural da urina, utilizado em exames bioquímicos para medir a capacidade funcional dos rins.
Um nível elevado de proteína dietética provoca um aumento na produção e excreção da uréia, podendo causar assim uma sobrecarga funcional nos rins.
A UTILIZAÇÃO DA CREATINA PODE
TRAZER ALGUM RISCO À SAÚDE ?
Não existem estudos publicados que comprovem
a associação da suplementação
da creatina com danos renais e/ou hepáticos
ou ainda cãibras musculares.
O organismo humano necessita receber um suprimento de energia contínuo e de maneira ininterrupta. Essa energia presente nos alimentos não pode ser transferida diretamente para realização do trabalho biológico, tornando-se acessível, na forma química, através do ATP. Em média, um indivíduo que contém uma massa muscular de cerca de 30 kg, a quantidade total dos fosfagênios de alta energia (ATP e CP) é suficiente para a manutenção de um exercício físico máximo por apenas 5 a 6 segundos. Durante esse tipo de exercício, a produção de energia pelos músculos ativos pode chegar a ser cerca de 70 vezes maior, quando comparado a um exercício menos intenso, e até 100 vezes maior, quando comparado ao estado de repouso. Dessa forma, a liberação de energia dos estoques de ATP e CP, de maneira rápida e imediata, para a realização de atividades físicas (como 25m de natação, saltos, 100 metros de corrida, e levantamento de pesos), é limitada.Se tomarmos como exemplo a corrida de 100 m, cujo o tempo de realização é de cerca de 10 segundos, a velocidade máxima de corrida será mantida por um período de até 5 a 6 segundos, sendo que após esse período, será acionado o sistema glicolítico de fornecimento de energia, a fim de regenerar o ATP gasto. Esse sistema de transferência de energia é mais lento que o dos fosfagênios, fazendo com que a velocidade de corrida diminua a partir do 6º segundo de prova. Dessa forma, a quantidade de fosfagênios armazenados na musculatura determina um melhor ou pior desempenho, estando esse dado de acordo com o fato de que o vencedor costuma ser aquele que reduz menos ou consegue manter sua velocidade nos últimos segundos de prova. Deve ser ressaltado que alguns pesquisadores acreditam que o sistema dos fosfagênios é capaz de contribuir, em grande proporção, por um período de até 20 segundos de atividade intensa. Partindo-se dessa hipótese, não seria espantoso acreditarmos que atletas mais treinados e com uma massa muscular bem desenvolvida, comportariam um estoque maior de CP nessa musculatura, consequentemente podendo regenerar o ATP em quantidades adequada, além de fornecer a energia requerida de forma veloz o suficiente. Na verdade, todos os tipos de atividade física necessitam de energia proveniente dos fosfagênios, e isso se dá principalmente nos momentos iniciais do exercício, porém, muitas contam quase exclusivamente com esse tipo de transferência de energia para sua realização, como por exemplo: beisebol, futebol americano, vôlei.
Além da formação de ATP pela quebra da CP, o músculo esquelético também pode utilizar outras vias para produção de ATP, como por exemplo: a via glicolítica (anaeróbia e aeróbia) - formação de ATP via degradação de glicose e glicogênio, na presença ou ausência de oxigênio; via ou sistema oxidativo - formação de ATP através de processos celulares de oxidação. A formação do ATP através da via CP e glicolítica anaeróbia, não envolve a utilização de oxigênio e são chamadas de vias anaeróbias. Já a formação do ATP pelos processos oxidativos, que envolvem a utilização de oxigênio, é denominado de metabolismo aeróbio. Esse último envolve a oxidação de glicose e glicogênio na presença de oxigênio, como também, a oxidação de gorduras e proteínas.
Via glicolítica Anaeróbia
Com a continuidade do exercício, já que o fornecimento de energia derivado dos fosfagênios são limitados, a atividade física é mantida pela energia vinda dos estoques de glicogênio muscular e glicose, que são utilizados para fosforilação do ADP durante a glicogenólise ou glicólise (degradação do glicogênio e glicose, respectivamente) anaeróbia, o que resulta na formação de lactato. Sem o adequado suprimento ou utilização de oxigênio todas as moléculas de hidrogênio serão transformadas de piruvato para lactato.
Piruvato + 2H Lactato
A formação de lactato é de prima importância para o metabolismo anaeróbio pois, permite uma contínua e rápida produção do ATP, através da via glicolítica anaeróbia. A energia anaeróbia para ressíntese de ATP fornecida pela degradação da glicose e do glicogênio muscular, através da via glicolítica, pode ser vista como uma "reserva de combustível" que é ativada quando a razão oferta de oxigênio/utilização for igual a 1.0, como ocorre, por exemplo, durante a última fase de uma corrida de 1,5km, onde o indivíduo aumenta e acelera seus passos. A produção anaeróbia do ATP permanece crucial durante, por exemplo, corridas de 400m ou 100m de natação, ou ainda, durante esportes que incluem tiros curtos como futebol. Essas atividades requerem uma rápida transferência de energia que excede o suprimento pelos estoques de fosfagênios. Se a intensidade máxima do exercício diminuir, como ocorre com a aumento da duração da atividade física, o acúmulo de lactato diminui correspondentemente. Embora a produção de energia pela via glicolítica anaeróbia seja rápida, apenas uma quantidade relativamente pequena de ATP é formado por essa via. Por outro lado, o metabolismo aeróbio fornece uma contribuição maior na transferência de energia para formação do ATP, particularmente quando a duração do exercício se estende por mais de 2 a 3 minutos.
Sistema Oxidativo ou Fosforilação Oxidativa
A medida que o exercício se prolonga a produção de energia derivada do metabolismo anaeróbio vai gradativamente sendo menos importante, dando lugar aos processos oxidativos. Além disso, com o aumento da duração do exercício ocorre um aumento da demanda metabólica que deverá ser suprida pelos processos aeróbios de produção de energia. A mitocôndria é uma organela que está localizada dentro da célula muscular, e é o principal sítio de produção de energia durante exercícios prolongados, aproximadamente acima de 2 a 3 minutos de atividade física. A degradação de carboidratos e gorduras através dos processos oxidativos, dentro das mitocôndrias, servem como importantes substratos para a ressíntese do ATP. Porém, existe uma importância relativa na utilização de carboidratos ou gorduras, como fonte energética, que irá depender da intensidade e duração do exercício. Se o exercício físico for realizado por um tempo prolongado, mas executado numa intensidade baixa (até aproximadamente 60% do consumo máximo de oxigênio), a principal fonte de energia utilizada será os ácidos graxos livres (gorduras). A medida que a intensidade do exercício aumenta (acima de 60% do VO2máx a contribuição da glicólise aeróbia (oxidação da glicose através dos processos oxidativos, dependentes de O2) como fonte energética também aumenta. Nessa situação, a demanda desse substrato de seus estoques musculares e na corrente sanguínea se encontram, também, aumentadas. Dessa forma, o conteúdo de glicogênio muscular e glicogênio hepático (que mantém a concentração de glicose no sangue constante) se tornam um fator limitante para a manutenção da intensidade do exercício, já que os seus estoques são limitados. A importância da glicose sanguínea durante o exercício tem sido amplamente estudada, sendo que o aparecimento da hipoglicemia pode limitar o exercício prolongado (endurance). Se houver uma diminuição do glicogênio muscular, a concentração de ácidos graxos livres no sangue aumenta 5 a 6 vezes os seus valores de repouso, e a musculatura passa a oxidar maiores quantidade de gorduras como fonte de energia a fim de regenerar o ATP. É sabido que a produção de ácido láctico pelas células musculares interfere com a mobilização de ácidos graxos livres (AGL) dos seus estoques (tecido adiposo) durante o exercício. Com o aumento da intensidade do exercício, onde ocorre um acúmulo de ácido láctico, a utilização de AGL como fonte de energia parece ser inibida. Contudo, se o exercício se prolongar, o ácido láctico irá ser utilizado como substrato energético pelos músculos e outros tecidos e, toma lugar novamente a oxidação de gorduras como principal fonte energética. Após o treinamento é observado um concentração menor de lactato, a qual tem sido atribuída a um menor déficit de oxigênio, assim como, a uma rápida metabolização do lactato produzido. Contudo, valores elevados de lactato são freqüentemente observados após corridas de longa distância. Isso demonstra a importante participação da via glicolítica, em corredores de longa distância, para o sprint final característico desse tipo de prova. A quantidade relativa da utilização de carboidratos e gorduras utilizados durante competições e treinamentos depende, em parte, do nível de treinamento dos atletas. É sabido que a fadiga e a redução da capacidade de trabalho estão intimamente associados com o esgotamento dos estoques de glicogênio hepático e muscular. Com o aumento da capacidade de utilização de gorduras e a conseqüente diminuição da utilização de glicogênio e glicose, como ocorre em atletas bem treinados e adaptados ao exercício de endurance, ocorre o efeito chamado de glycogen-sparing, o qual poderia adiar a fadiga e proporcionar uma tolerância maior ao exercício. Fica evidente, até o momento, que durante os diferentes tipos de exercício, diferentes sistemas energéticos estão atuando simultaneamente com a finalidade de regenerar o ATP para a manutenção do fornecimento de energia para o trabalho muscular. No entanto, dependendo da intensidade e duração do exercício, a contribuição relativa de cada um desses sistemas pode ocorrer com uma contribuição maior de uma via, e menor de outra. Dessa forma, fica fácil enxergar-mos de que maneira a creatina poderia contribuir como um agente ergogênico para melhorar a performance. Assim, o efeito da suplementação de creatina como agente ergogênico na performance física, e os riscos associados à suplementação serão discutidos no próximo artigo (creatina parte-3).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- McCAFFERTY, W.B.; HORVATH, S.M. Specificity of Exercise and Specificity of Training: A Subcellular Review. The Research Quarterly, 48(2): 358-371, 1995.
- POWERS, S.K.; HOWLEY, E.T. Execise Physiology: Theory and Application to Fitness and Performance. WCB/McGraw-Hill, USA. 2000.
- Williams, M.H.; Kreider, R.B.; Branch, J.D. Creatine - the power supplement. Human Kinetics, USA., 1999
-

contato: email:lucianofisiol@gmail.comfacebook: luciano sousa lucianosousa